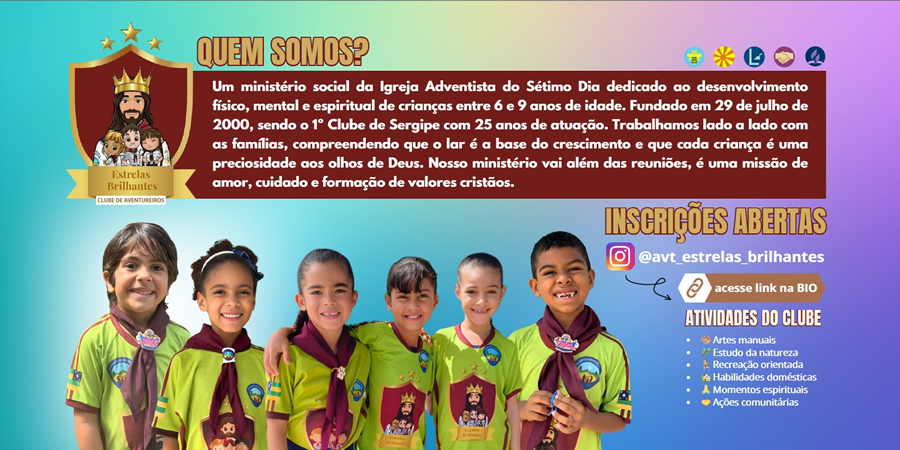O inocente :: Por José Lima Santana
Diz sabiamente o dito popular que “papagaio come milho e periquito leva a fama”. Ora, como o periquito é extremamente barulhento, com ele fica a fama, embora quem devore o milho seja o sujeito mais quieto, que pouco grita e muito come. Na vida humana, muita coisa segue esse ritmo. O inocente :: Por Jos� Lima Santana - Foto: Reprodu��o/Livro Harlan Coben
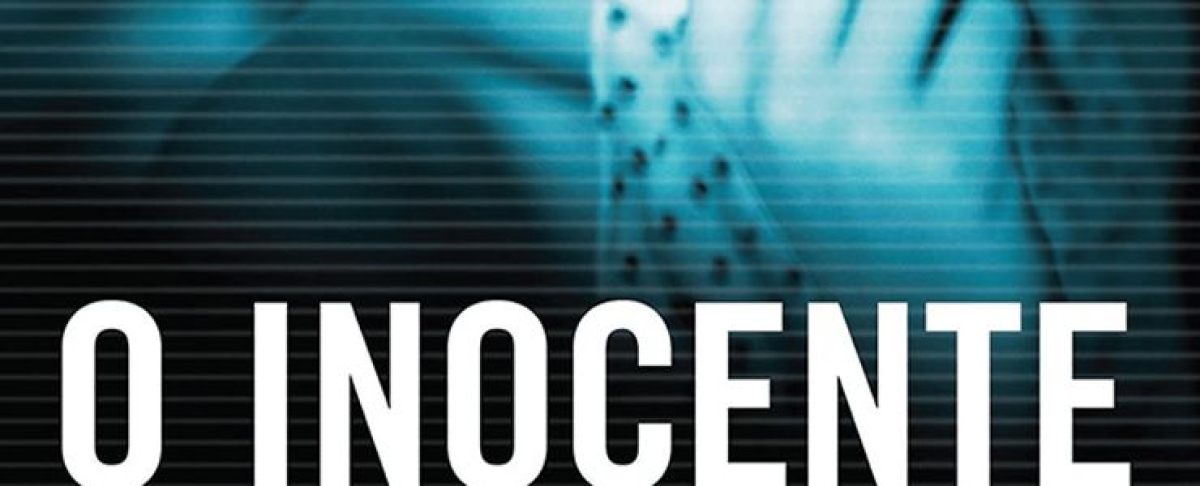
Quinta-feira. Passando um pouco do meio-dia. Bar do Bel, no Iate Clube de Aracaju. Ali eu me encontrava com um grupo de pessoas, discutindo sobre o I Encontro de Filhos e Amigos de Dores em Aracaju. Na mesa ao lado, encontravam-se austeros homens que, nos seus misteres profissionais, envergam beca ou toga. Ou seja, profissionais de carreiras jurídicas. Austeros nos afazeres jurídicos, mas não tanto nos momentos de descontração, quando dos costumeiros almoços semanais, por exemplo. Nada mais justo. Todos eles são meus amigos. Cumprimentei-os, um a um, com ênfase na saudação e no abraço. Naquele ínterim, lorotamos e mexemos uns com os outros. Rimos muito. O vento adentrando pelas portas, vindo da barra do rio Sergipe, assanhava os cabelos prateados, um pouco mais ou um pouco menos, de cada um de nós. Sobre a mesa entoalhada, a bebida predileta de cada um, além de uns tira-gostos para a turma babujar, enquanto se aguardava a comida. Por um razoável lapso de tempo, eu deixei a mesa que dividia com conterrâneos e outros amigos, para um rápido bate-papo naquela mesa de homens austeros. Em parte.
Ao abraçar um deles, desses quietinhos, eu disse: “Diga aí, namorador!”. Enquanto ele tentava dissimular a pecha de namorador, proclamando, entre risos: “Que nada, que nada!”, outro conviva rebateu: “Esse aí é o famoso come-quieto. Danadinho, viu?”. Outro mais complementou: “Lembra a história do papagaio e do periquito? Aí está o papagaio!”. Tornamos a rir muito. Ele próprio riu, mas com aquele risinho amarelo de desfaçatez, de quem comeu e quer esconder que comeu e o que comeu. “Sim, me engane, que eu gosto”, pensei. De pronto, um, até então calado, e apenas sorrindo, disse: “O nosso amigo aqui – apontando para outro – é quem tem levado a fama”. Ao passo que este outro respondeu: “Pobre de mim!”. Aí, sim, todos nós rimos à larga. Gargalhada geral. Este último, assim apontado, nos áureos tempos, não foi moleza em termos do mulherio. E assim lorotamos, cada um tendo, claro, o que dizer. Afinal, tem coisa melhor do que um bom bate-papo entre amigos, que se reúnem em costumeiros comes e bebes? Ali, naquele momento, eu era uma espécie de intruso, todavia, muito bem-vindo. Sem dúvida.
O vento continuava soprando para amainar a brabeza do calor de março, do mormaço abrasador que se abatia sobre a capital sergipana, que, naquele dia, estava a cinco de completar 160 anos. E salve Aracaju, nossa menina-moça urbana! Pois bem. Aquele que eu saudei como namorador, provavelmente para escapar das nossas brincadeiras, porém, carregadas de verdades, disse que o seu avô contava que um antigo senhor de engenho da Cotinguiba costumava vestir uma capa preta para se passar por um bicho, um “maçone”, e, assim, entreter as negrinhas, minhas irmãzinhas de cor, que trabalhavam no eito dos canaviais. Segundo ele, a cabroeira do eito, supersticiosa, corria quando o avistava ao longe, metido na capa preta, com chapéu preto e botas pretas, mas as negrinhas prediletas dele mostravam-se corajosas e não arredavam pé. Sabiam o que as esperava. Cada uma tinha o seu dia. Ele só se vestia assim quando estava com o capeta no corpo, segundo diziam aquelas mulheres com as quais ele se deitava. Ele tinha um pacto com o tinhoso, e era este tal que lhe dava fogo e potência, diziam elas. Nas casinhas simplórias, que substituíram a antiga senzala, as negras velhas, agarradas a terços e patuás, como é próprio do sincretismo religioso, persignavam-se e proferiam palavras de esconjuros na língua iorubá e na distorcida língua portuguesa, quando avistavam o apadrinhado do demo metido naqueles trajes: “Áà! Ábuku afaiyá-korin! Pelo siná da Santa Cruz, vade retro!”. Ora, todo mundo sabe que histórias desse tipo rolavam à largueza nos engenhos. E não só nos engenhos, nos tempos da escravidão e depois da abolição. Hum...! Quanto ao amigo que nos contou essa história, também ele descendia da classe senhoril rural. Logo, um dos companheiros de algazarra (àquela altura, já fazíamos uma contida algazarra) não perdoou: “Ah, doutor Fulano, você sabe o que diz e, mais ainda, sabe o que faz. Você tem boa raiz”. E quem disse isso foi exatamente o neto de um sujeito apaideguado da minha terra, que lotou casas e mais casas com magotes de meninos. Quantos tios, por exemplo, tem esse nosso amigo? Dezenas. Apenas dentre os conhecidos. E ele mesmo não é quietinho não.
Santo Deus! Foi assim, nos eitos e noutros cantos, que parte significativa da população mestiça brasileira, especialmente a nordestina, se formou e proliferou. Numa sociedade permissiva para os homens, em que, não raro, os pais diziam dos filhos, quando o assunto era namoro ou amigação: “Quem tiver suas cabras que segure, porque os meus bodes estão soltos”. Pura danação. Muita gente atolada nos encantos da carne, almas entregues à perdição, como diria o velho Cônego Miguel Monteiro Barbosa, lá nas Dores. Sociedade machista, que também apregoava: “Em homem nada pega, mas em mulher, tudo gruda”. ‘Eitha’ bagaceira no meio da feira! Fazer o quê? Todavia, os tempos mudam. Só não mudam mesmo as boas conversas, as lorotas boas, quando os amigos se encontram, como naquela quinta-feira, só para lembrar a polca “Lorota Boa”, de Luiz Gonzaga em parceria com Humberto Teixeira (gravada pelo Rei do Baião, em 7 de junho de 1949, pela RCA Victor, em 78 rpm, sob nº 80-0604-A, matriz S-078887).
Era hora de despedir-me dos amigos daquela mesa e retornar à mesa onde outros me esperavam para continuar a discussão sobre o I Encontro dos dorenses. Antes de deixar o animado e estimado grupo, eu disse, tocando no ombro daquele que eu chamei de namorador: “Este aqui é inocente!”. Em uníssono, todos responderam como se fossem membros de um coro de igreja, afinado: “Inocente, não. Culpado!”. Novamente, rimos muito. Naquela mesa de homens austeros, nenhum era inocente em termos de vadiação.
E o vento continuou soprando, trazendo das águas do rio abraçado à maré o cheiro carregado de maresias, naquele ensolarado começo de tarde. Tarde de março. Águas de março. Tudo tão propício para não inocências... Vôte!
Um deles pediu-me para escrever sobre aquele encontro. E o título deveria ser exatamente “O inocente”. Eis aqui.
Publicado no Jornal da Cidade, edição de 22 e 23 de março de 2015. Publicação neste site autorizada pelo autor.
(*) Advogado, professor da UFS, membro da ASL e do IHGSE
Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana