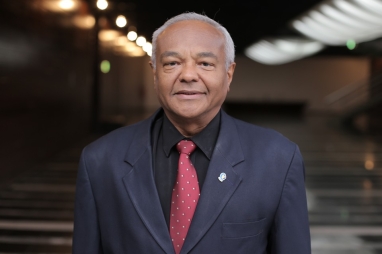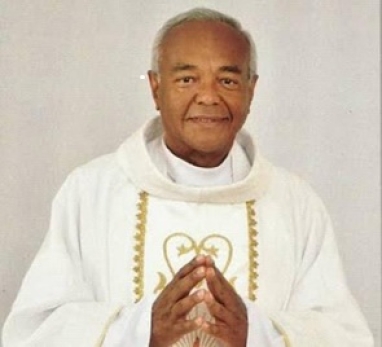O Ano Novo de Francisquinha :: Por José Lima Santana
José Lima Santana(*) jlsantana@bol.com.br
Jos� Lima Santana (Foto: ClickSergipe)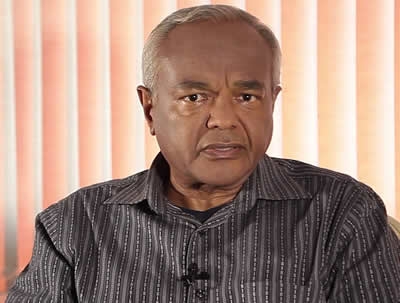
Francisquinha e mais quatro irmãos estudavam na única escola existente naquele subúrbio. E, claro, eu também. A escola era pertinho de casa. Funcionava na casa da professora, na sala de estar, que, ali, se chamava varanda. Era tudo muito pobre, muito acanhado. Mas, a vida seguia assim mesmo. Aquela menina sem cor definida, cheio de irmãos barulhentos, apanhou uma doença feia. Ficou tísica. Tuberculosa. A minha mãe não pronunciava essas duas palavras. Eu as aprendi na rua. Mamãe dizia: “A filha de dona Eudócia tá com a ‘fina’. Você não pode mais brincar com ela, nem com os irmãos dela. A ‘fina’ pega no vento”. Não brincar com a minha amiguinha e seu irmão Cidinho seria doloroso. E como foi!
A minha amiga foi levada para Aracaju, para um lugar chamado Sanatório, ou sei lá o quê. Todo mundo da casa dela teve que ir a Aracaju, para bater chapa dos pulmões. Porém, somente ela estava contaminada. Passaram-se semanas. Meses. As notícias vinham de vez em quando, pois a cada mês ‘seu’ Afonso ia ver a filha. Às vezes ele dormia na casa de uma irmã, que morava perto do Sanatório, no “Sontontonho”, como dizia dona Eudócia. ‘Seu’ Afonso voltava sempre esperançoso. Ao menos, era o que ele deixava transparecer nas conversas com o meu pai. Um dia, porém, eu vi ‘seu’ Afonso chorando no quintal, debaixo do pé de fruta pão. Eu nunca tinha visto um homem chorar. E ele parecia chorar como um desesperado, embora chorasse baixinho. Deu-me um aperto no coração e eu corri para dentro de casa, assustado. Foi, então, que eu pensei que Francisquinha estava para morrer. E se Cidinho também apanhasse a ‘fina’? Eu não poderia perder os meus dois amigos. Aí, sim, o meu desespero seria do tamanho do fim do mundo. Não sei bem a razão, mas, para mim, o fim do mundo de que me falava minha madrinha de apresentar, irmã de criação do meu pai, seria a coisa mais feia do mundo. E como dizia dindinha Carminha, o mundo se acabaria sob uma chuva de fogo. Para mim, na minha santa inocência, perder Francisquinha e Cidinho, meus melhores amigos, seria, sim, o fim do mundo. Coisa mais feia. Coisa mais triste.
Uma boquinha da noite, depois do Natal, chegou à casa de ‘seu’ Afonso, pedalando uma velha bicicleta, Aloísio de Hilda, prima do meu pai, com um bilhete da irmã de ‘seu’ Afonso. Aloísio era o cobrador da marinete que fazia as viagens de Dores para Aracaju. Dona Eudócia caiu em prantos. ‘Seu’ Afonso também. Logo, a família inteira chorava. Mamãe foi acudir dona Eudócia. Ela disse que a notícia vinda com o bilhete era boa demais para ser verdade. Ela disse isso. E foi isso mesmo que mamãe disse a papai. Eu não acreditei. Eu nunca tinha ouvido ninguém chorar por causa de uma notícia boa. Nunca. Ou os meus sete anos eram ingênuos demais. Na minha cabecinha sem miolos ajuizados, somente uma coisa tinha acontecido: Francisquinha estava morta, ou estaria para morrer. Cidinho, eu e ela éramos como irmãos. Íamos juntos à escola. Fazíamos artes juntos. Ela era da minha idade. Cidinho era um ano e pouco mais velho. Perder Francisquinha seria uma coisa muito ruim. Naquela noite, depois do café, fui para o quarto que eu dividia com o meu irmão, e chorei debaixo do lençol, para que mamãe não pudesse ouvir e me fizesse um monte de perguntas sem pé nem cabeça. Chorei como um desvalido. E no meu choro inocente eu repetia baixinho: “Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!”. Deus ainda teria como socorrer Francisquinha?
O Natal tinha passado. A festa de Ano Novo seria dali a dois dias. ‘Seu’ Afonso foi a Aracaju. Na minha cabecinha confusa, ele traria o corpinho de Francisquinha dentro de um caixãozinho branco. Igualzinho ao da filhinha de Perolina, que morreu ainda bebê, comida pelos vermes. Naquele tempo, morriam muitas crianças. Os cemitérios e as santas-cruzes eram cheios de covinhas de anjos.
Como nós estávamos em férias escolares, eu passei o dia todo na calçada lá de casa. Mal e mal entrei em casa para comer, ao meio-dia. Continuei na calçada. Sem sossego. A tarde caiu. O sol começou a ir-se embora. Umas nuvens de chuva se formaram, mas não choveu, apesar de uns poucos trovões. A noite deu sinais de sua chegada. Súbito, do beco de tio Dadá, saíram ‘seu’ Afonso e uma pirralhinha que ele segurava pela mão. Não tive dúvida. Era Francisquinha. Viva. Mais viva do que nunca. Eu girtei: “Mamãe, é Francisquinha!”. Quis correr ao encontro deles, mas as pernas começaram a doer. Doíam muito, de repente. O meu coraçãozinho de apenas sete anos disparou. Bateu, bateu como se fosse estourar. Não chorei, mas tive vontade. Quando eles chegaram à calçada da casa deles, ela me deu adeus. Acenou com a mãozinha esquerda. Eu não lembro bem, mas acho que derramei umas lágrimas. Corri para o interior da casa berrando: “Mamãe, a senhora não ouviu? ‘Seu’ Afonso trouxe Francisquinha!”. A minha mãe, que estava atarefada, fazendo o café da noite, não tinha ouvido o meu alarme anterior.
Francisquinha não pôde ir à feirinha de Ano Novo. Ela estava curada da ‘fina’, mas precisava tomar cuidados. Eu fui e trouxe para ela uma cestinha de confeitos de castanhas de caju, que, em geral, quase toda criança adorava. Eu nem sabia se ela gostava de confeitos. Comprei porque ela era minha amiga e estava de volta. Contudo, ela adorou. E comeu todos os confeitos, menos uns poucos que ela me deu, que colocou em minha boca. Aquele foi o primeiro Ano Novo que Francisquinha passou ao meu lado. Quero dizer, que ela passou comigo ali como seu vizinho. E companheiro de artes. Eu, ela e Cidinho. Ainda hoje nós somos amigos.
(*) Advogado, professor da UFS, membro da ASL e do IHGSE
Publicado no Jornal da Cidade, edição de 03 de janeiro de 2016. Publicação neste site autorizada pelo autor.
Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana
Confira AQUI mais artigos da autoria de José Lima Santana publicados no ClickSergipe antigo