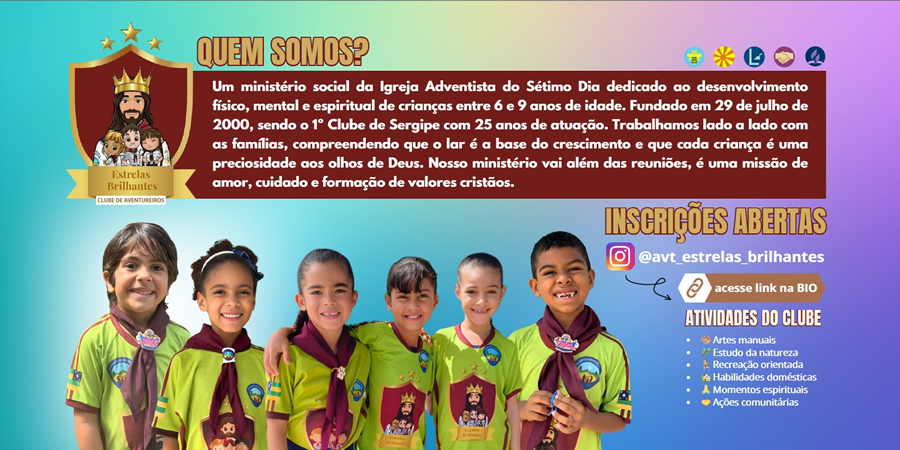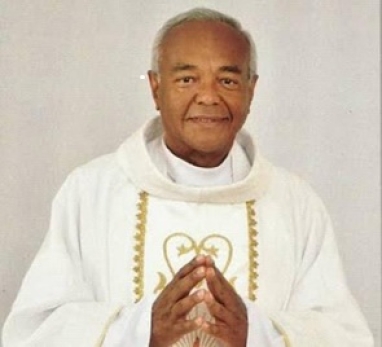A PERDA DE UM FILHO :: Por José Lima Santana
José Lima Santana* - jlsantana@bol.com.br
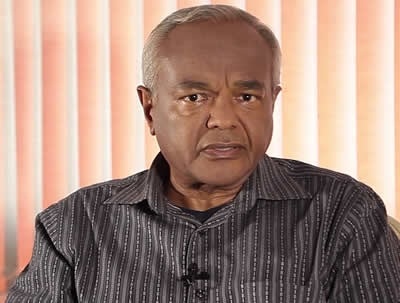
José Lima Santana (Foto: Click Sergipe)
A perda de um filho, para os pais, é sempre dolorosa. Extremamente dolorosa. O natural é que os pais precedam os filhos, no caso de morte. Mas, o natural nem sempre é o real. Por outro lado, o que é um (a) filho (a)? Consideremos duas hipóteses: a primeira, filhos de sangue; a segunda, filhos do coração. De qualquer forma, filhos são filhos.
Na última terça-feira, à noite, eu perdi um dos meus dois filhos do coração. Este, afilhado de batismo, que, praticamente, foi criado em minha casa, desde a mais tenra idade. Quantas vezes, ele pequenino, eu o acalentei em meus braços, a fim de que dormisse? Quantas vezes, aos domingos à tarde, quando precisava vir a Aracaju, para a jornada de trabalho a partir da segunda-feira e até a sexta-feira, eu tive que o acalentar porque ele chorava à vontade, na hora que eu me despedia? Quantas vezes ele não se consolava e eu adiava a viagem para não o deixar chorando!
Algumas pessoas na cidade, embora, claro, soubessem quem eram os seus pais biológicos e que eu era o padrinho de batismo, diziam que ele era “o filho de Zé Lima”. Filho do coração não deve ser mais do que filho de sangue e do coração, mas, com certeza, é muito mais do que apenas um filho de sangue.
Eu senti, de uns tempos para cá, que estava perdendo o filho. O comportamento dele, a vida que estava levando, afastando-se da casa de seu pai (ele perdera a mãe aos 12 anos), para coabitar com uma mulher bem mais velha do que ele, e pouco frequentando a casa de minha mãe, que também o tinha como um filho. Todavia, eu jamais poderia pensar que aquela situação não pudesse ser revertida.
Na tarde da malfadada terça-feira, estranhamente, o meu pensamento estava ancorado nele. A todo instante, vinha à minha mente a lembrança do dia em que ele, com uns quatro anos, tinha levado umas palmadas da mãe e conseguiu escapar, chorando, e foi ter em meus braços, lá em casa. Eu estava sentado no sofá da sala de visitas, lendo um livro. Eu o acolhi e impedi que a mãe dele o levasse de volta para casa. Pois a lembrança desse fato martelou a minha memória naquela tarde de terça-feira. Após as aulas, na UFS, ao chegar em casa, o meu outro filho do coração, que tinha vindo passar a semana comigo e minha mãe, em Aracaju, disse-me que a minha sobrinha, madrinha de ambos, queria falar comigo com urgência. Ela não quis dar a notícia à minha mãe, que, no dia anterior, tinha completado 83 anos de idade. Que notícia! Que dura notícia!
O meu filho mais velho do coração, aos 19 anos de idade, tinha sido abatido pela polícia. Logo depois, a minha outra sobrinha enviou-me um vídeo em que uma autoridade policial prestava informações sobre a morte de Guilherme. Vi e revi o vídeo várias vezes. Depois de 37 anos de exercício da advocacia, inclusive, com muitas dezenas de defesas patrocinadas – quem sabe, centenas! –, no campo do Direito Penal, de lesões corporais de natureza leve ao tribunal do júri, a gente aprende a analisar e deduzir os fatos. Porém, sobre isso eu ainda estou considerando, ruminando cada palavra que ouvi. Cada um procura a sua verdade. Aliás, já se disse que “A verdade é filha da nossa necessidade psicológica”. Veremos.
Um tronco de jequitibá abatido por um raio. Foi como eu me senti com a grave notícia. Fatídica notícia. Com jeito e com firmeza, eu dei a notícia à minha mãe, que caiu em prantos. A minha irmã a amparou. Tive que ser forte. Estava de mala arrumada para, na madrugada, ir a Brasília, para um compromisso inadiável. Não há fortaleza que possa ser esboçada por um pai diante de uma notícia daquela. Um pai de coração, que levou o afilhado, tido como filho, à pia batismal. Que o viu crescer em sua casa. Que fez de tudo para educá-lo, para provê-lo do que lhe fosse necessário, material e moralmente. Até onde foi possível.
Há, na minha visão de advogado e professor de Direito, algo errado. Algo que precisa ser esclarecido. Contudo, isso já está sendo encaminhado a quem de direito. Prefiro, por ora, não me ater a isso.
Eu vi, por exemplo, o desespero e a angústia de minha avó materna, quando meu pai morreu, em 9 de março de 1979, aos 45 anos de idade. Morreu de manhãzinha, na cama, de ataque cardíaco fulminante. Era o quarto filho que minha avó via morrer antes dela, que estava com 84 anos. Antes de meu pai, foram-se minha tia Nazaré, em 8 de maço de 1972, meu tio Carivaldo, assassinado, após interferir para acabar uma discussão entre um amigo dele e o assassino, em 23 de julho de 1973, e meu tio José, de ataque cardíaco, em 30 de janeiro de 1975. Não era fácil para uma mãe enterrar quatro filhos dentro de sete anos. A angústia e o desespero de minha avó foi a minha angústia e o meu desespero ao saber do fatídico acontecimento que vitimou Guilherme. Como também foi do seu pai biológico e de outros familiares.
Não foi fácil saber da morte do meu filho mais velho do coração. E não será, doravante, conviver sem a presença dele, ainda que ocasional, como vinha sendo nos últimos meses. Eu sei muito bem que não perdi um santo, que ele deve ter feito coisas reprováveis, mas perdi um filho. Restam providências legais a serem tomadas. Não restará apenas a dor da perda. Entretanto, com esta eu haverei de conviver por toda a minha vida. Meus olhos não choraram apenas naquela noite medonha. Haverão de chorar sempre. Uma coisa é, como cristão e padre, crer na vida eterna, como eu creio com toda a força de minha alma e de minha inteligência, outra coisa bem diferente, é a dor da perda, da separação física. E, como disse o padre Gilson Garcia de Melo, numa aula de Introdução à Filosofia, em 1977, quando comecei o curso de Direito, na UFS, “o absurdo da morte não é a morte em si, mas, é a dor da separação”. Ele tinha razão.
P.S. Dois antes de ser abatido, Guilherme foi ter com minha mãe, levando um punhado de feijão verde. E disse: “É para o meu padrinho, que eu sei que ele gosta”. Foi o último gesto de carinho dele para comigo. E eu não tive a chance de agradecer.
*PADRE. ADVOGADO. PROFESSOR DA UFS. MEMBRO DA ASL DA ASLJ E DO IHGSE
Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana
Confira AQUI mais artigos da autoria de José Lima Santana publicados no ClicSergipe antigo