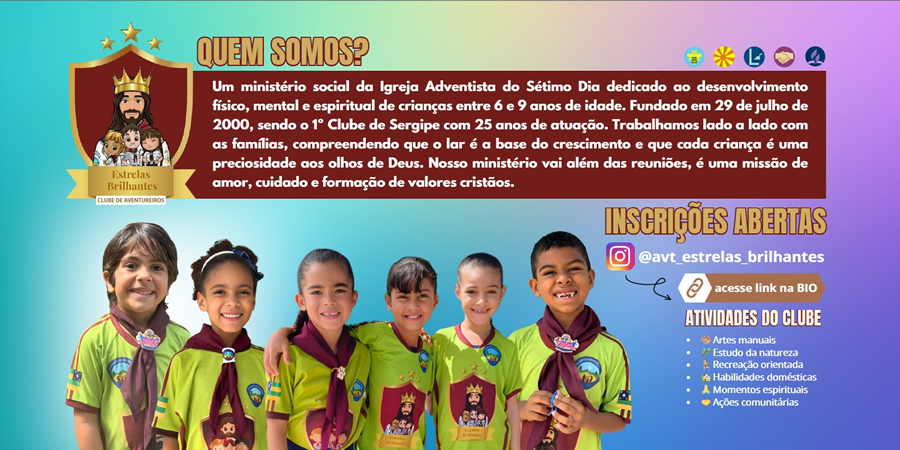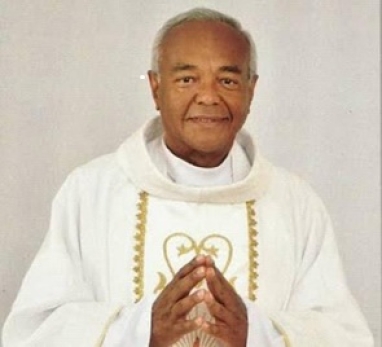Zé “Gaia” de Ouro :: Por José Lima Santana
Tarde de quarta-feira. Meio de semana. Dia ruim para ajuntar gente disposta a ir a um enterro. Enterro às quatro da tarde, sol tinindo na testa. Início de janeiro. Verão sapecando fogo no mundo. Mas o morto era gente da melhor espécie. Querido e respeitado. Homem simples. Marido exemplar. Pai amoroso e amado por doze filhos, cinco homens e sete mulheres. Todos casados. Netos? Um magote. Mais de trinta. Sem contar alguns bisnetos e um tataraneto. Fartura de meninos em dias de comemoração. Morreu às dez horas da noite anterior. Morreu sereno. Como um passarinho. Até parece que sabia que ia desta para melhor. Melhor? É o que dizem.
Para os crentes, especialmente cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, vai-se em busca da vida eterna pela misericórdia de Deus. A salvação vem pelo sangue derramado por Jesus no alto da cruz, que é garantia da ressurreição, tal como o Cristo de Deus ressuscitou, levando com Ele, naquela sexta-feira, o chamado “Bom Ladrão”, que lhe suplicara no alto de sua cruz. “Ainda hoje estarás comigo no Paraíso”, respondeu-lhe o Mestre (Lc 23,43). Para os kardecistas, mudança de plano. Não se morre, desencarna-se. Para estes, a reencarnação é necessária à evolução dos espíritos. Além de muitas outras religiões ou filosofias religiosas, como o islamismo, o budismo, os cultos afro-brasileiros e outras mais, cada uma com a sua peculiar compreensão sobre a morte, e todas elas devendo respeitar cada uma, no que se chama tolerância, algo que muito nos falta. Mas, para os ateus, apenas o buraco frio de uma cova rasa ou o silêncio profundo de um mausoléu. Como se na cova rasa não seja o silêncio também profundo. Nada mais. Somente a decomposição do corpo, que vira esqueleto, que vira pó. “Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó e ao pó voltará” (Gn 3,19). Alimento para os bichinhos comedores de matéria em putrefação. Os bichinhos de cemitério são chamados morotós. Gordinhos que são uma beleza. Passam bem, pois nunca faltam defuntos. Que horror! A vida encerra-se com a morte do corpo? A sepultura é o fim? Haja discussão. Desde que o mundo é mundo, o homem debate sobre a vida além-túmulo. Pois ali estava mais um de partida, para o buraco, apenas, ou para a tateante busca da eternidade e assim por diante.
Muito bem. O morto daquele janeiro abrasador tinha 88 anos de idade. Há dois, ficara viúvo. A morte da mulher lhe trouxe desconsolo, desalento. A vida foi minguando desde que o esquife de Dona Clarinda deixou a casa. Vidas entrelaçadas, a dele e a dela. Sessenta e um anos de convivência. Harmoniosa vida a dois, apesar de más línguas, em certo momento, terem dado motivo para a separação do casal. Isso, todavia, foi no começo do casamento. Tormenta vencida. A fofoca é algo tenebroso. Até o Papa Francisco referiu-se a ela, há poucos dias, considerando-a terrível na Cúria Romana. Cardeais e outros prelados de língua afiada, muita malícia escondida, e, talvez, de parca vivência do amor cristão, pois não são apenas os estudos teológicos aprofundados que dão norte seguro à caminhada cristã. Às vezes, questões mundanas sobrepõem-se às espirituais. O poder, no seu lado obscuro, em suas múltiplas facetas funestas, quando não é usado como se deve, corrói a alma: a ganância, o luxo, a perfídia... E um monte de outros vícios, que Francisco está lutando para coibir. Tudo isso, porém, fica lá com a Igreja. O que me interessa, agora, é a morte daquele homem quase nonagenário.
José Luiz Pereira da Costa. Vulgo Zé Costinha. Comerciante. Dono que foi de sortida bodega, que virou armazém na Rua da Tapagem, depois Rua das Flores, depois Rua Marechal Floriano Peixoto, depois Rua Benjamin Constant, mas que, na boca do povo, não passa de Rua dos Correios.
Dois dias antes de morrer, Zé Costinha chamou os filhos, no domingo. Fez algumas recomendações. Até o mais velho, morador no sertão da Bahia, veio e ficou a pedido do pai. O velho não tinha dívidas. Nunca as teve. Tinha, sim, um dinheirinho no Banco, na poupança. Conta encerrada na sexta-feira anterior. Plano funerário em dia. Tudo nos conformes. Desde o domingo, então, a parentela ficou atenta. Zé Costinha poderia bater as botas a qualquer momento. Do domingo para a terça-feira à noite, ele definhou e morreu. Não deu trabalho.
Quarta-feira. Quatro da tarde. Sol a pino. Vento nenhum. Calor de rachar o chão. Enfim, depois de muitas excelências cantadas pelas senhoras carpideiras, o caixão com o corpo depauperado de Zé Costinha seguiu para a última viagem que ele empreenderia. Quarta-feira. Meio de semana. Dia ruim para ajuntar gente. Não no caso do enterro de Zé Costinha. Juntou gente. Muita gente. O velho era querido e respeitado. Vieram até parentes das Alagoas. Amigos e antigos fregueses eram incontáveis.
Nos velórios e enterros sempre rolavam muitas conversas. Lembranças, lorotas e fofocas. Tonho da Ribeira e Zeca de Maria Rita seguiam no fundão do cortejo, que se arrastava como cobra pelo chão, lembrando a música de Gilberto Gil. Um perguntou ao outro: “Por que, às escondidas, chamavam Zé Costinha de Zé “Gaia” de Ouro?”. O outro precisou conter o riso, mas desembuchou: “Dizem que, quando ele casou com Dona Clarinda, um sujeito da Varginha, cachaceiro e conversador, teria dito que se Clarinda botasse ponta em Zé Costinha, ele teria ‘gaia’ de ouro, tal era a formosura dela, quando nova. Pois ‘gaia’ vinda de mulher bonita só podia ser de ouro”. O outro riu.
Na verdade, o tal sujeito, que, se não me falha a memória, que não anda lá muito boa, se chamava Tibúrcio, era vaqueiro de “seu” Pedro Malaquias. Esse tal não só falou o que acima está registrado, como andou dizendo que Dona Clarinda, casadinha de novo, estaria enfeitando o marido. Aleive infeliz. Dona Clarinda, dizem os de sua época de nova, era uma mulher encantadora. Rosa desabrochada em noite de luar. Corpo moldado pelo Criador para espantar os homens. Para deixá-los de queixos caídos. Rosto de fada benfazeja. Sorriso de anjo. Verdadeira escultura de carne humana, que Zé Costinha arranjara ali mesmo, no subúrbio da cidade. A família dela arranchara-se na cidade no começo dos anos 1900, fugindo de mais uma seca no sertão. Família de bonitas morenas. E Dona Clarinda seria a mais bela de todas as morenas daquela família. Uma deusa. Ou só tem mulher bonita no cinema e na televisão? Nas passarelas? Ora, elas estão por aí, em todo canto, como flores do campo, que brotam em todo lugar, quando as lágrimas do céu fecundam a terra sedenta.
Explicado está, então, a origem do apelido de Zé Costinha, que era dito pelas costas: Zé “Gaia” de Ouro. Afinal, chifre botado por uma linda mulher só podia ser mesmo uma “gaia” de ouro, como explicou o cabra, no cortejo fúnebre. E olhe lá! Pode ser de ouro, de diamante... Porém, jamais botada por Dona Clarinda, mulher de respeito, mulher de um homem só.
P.S.: Eu não disse que a minha memória não anda bem? Já ia me esquecendo de prestar um esclarecimento: o aleive de Tibúrcio quase acabou com o casamento de Zé Costinha e Dona Clarinda. Aleive, quando bate pernas, vira fofoca. Naquele caso, virou. Foi preciso que o delegado Amâncio Pereira botasse Tibúrcio na chincha. E ele confessou que dissera o que dissera por maldade, conversa sem pé nem cabeça de cachaceiro. Por isso mesmo, caiu no cipó caboclo. Apanhou de fazer dó. O delegado era primo de Zé Costinha.
Publicado no Jornal da Cidade, edição de 04 e 05/01/2015. Publicação neste site autorizada pelo autor.
(*) Advogado, professor da UFS, membro da ASL e do IHGSE
Confira AQUI mais artigos do José Lima Santana